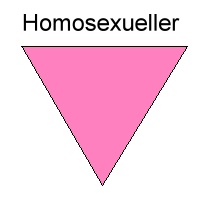À espera do silêncio
João Campos
I
Em sua estreia no cinema, André Lage nos apresenta um filme de imersão na vida íntima de um casal peculiar que habita uma pacata ilha. Fruto de um encontro fortuito durante uma viagem do diretor à Argentina, Los Leones (2016) nos seduz por trazer a distância para perto, numa experiência sutil e vibrante.
O filme só foi possível pela relação de cumplicidade e respeito que André Lage teceu com o casal Raúl e Mariana durante o ano que viveu entre eles, de modo que podemos pensar essa obra como um trabalho de etnografia sentimental e visual. Tal relação pode ser observada nas opções formais do diretor, que procurou, de acordo com minha interpretação, tratar as imagens desse encontro – e do vínculo produzido a partir deste – com respeito e carinho.
A serenidade dos primeiros planos-sequência que assistimos prefacia o ritmo do que se segue. Nesse início, Raúl e Mariana dormem tranquilamente, sob os ventos de um precário ventilador em constante movimento pendular. André Lage busca trazer a duração desse momento aparentemente banal para a mise-en-scène, como o faz durante todo o filme. Jean-Louis Comolli declara que no cinema documentário, “a duração do registro é uma prova reveladora”[1]. No contexto de Los Leones, a duração dos planos fixos e demorados revela vestígios dos corpos e espaços – ou dos corpos nos espaços – “daqueles que filmamos”. André Lage parece estar à espera da intimidade do mundo em que se insere enquanto realizador e amigo. Nesse percurso, o autor encontra uma verdade: a silenciosa urgência da alteridade.
II
Los Leones é uma viagem solitária que instaura um vínculo. No isolamento da ilha em que vivem o casal Raúl e Mari, seus amigos e demais vizinhos, descobrimos a dissidência pelos vestígios que os planos fixos, detalhes e closes deixam na imagem. A câmera se vira ostensivamente para os personagens, aproximando o espectador das bocas, olhos, bochechas, mãos e outras partes de seus corpos. As vozes e os gestos são, assim, registradas sensivelmente pela câmera madura e paciente de André Lage. Com efeito, este é um filme de marcas, sinais e rastros. Somos levados a seguir imagens residuais e sedutoras, a fim de desvelar a realidade das vidas que atravessam a tela.
Nesse jogo, o fora de campo exerce um papel fundamental. O som da televisão, sempre presente, entra em relação com o engajamento dos personagens em seu ambiente doméstico. Contudo, o maior êxito do filme é o trato com a doença e a morte de Mariana. De fato, os conflitos e violências – presentes e passados – atravessam o filme enquanto fantasmas do fora de campo. A mise-en-scène do filme é, sobretudo, as lacunas narrativas, as elipses que solicitam um olhar sutil para a morte, sempre à espreita.
Ao invés de ir de encontro à degradação física e espiritual de uma personagem moribunda, André Lage deixa a morte no ar[2]. As queixas, o vômito e o mal-estar de Mariana aparecem como vestígios da finitude. Se não houvesse, ao cabo do filme, o posfácio em memória da personagem falecida, a sugestão do morrer não poderia passar de mera especulação dramática.
Apesar de não ser a proposta estética do diretor, Los Leones me parece um filme híbrido. Contudo, André Lage não procura ficcionalizar momentos do cotidiano do casal. Resta a espera. A alteridade se impõe à câmera, com toda a potência estética e política de uma intimidade transgressora. O deslocamento de mise-en-scène para o íntimo e doméstico nos lembra a lógica de filmes recentes como Ela Volta na Quinta (2014) e A Vizinhança do Tigre (2014), ambos resultados de relações de pertença e vínculo. Dito isto, Los Leones é um filme político.
_________________
Notas:
[1]Trecho de Pela continuação do mundo (com o cinema), de Jean-Louis Comolli. In: Ver e poder: a inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário. Ed. UFMG, p. 29.
[2]Essa atitude respeitosa em relação à doença e morte de Mariana não escapa aos conflitos. Na cena em que Mari passa mal e vomita, por exemplo, ela lança olhares fugidios para a câmera seguidas vezes, o que sugere certo constrangimento. Esse momento nos faz refletir sobre a violência da câmera que apontamos para o outro. Considero importante mencionar essa questão, porém, a cena supracitada é uma situação excepcional do filme.